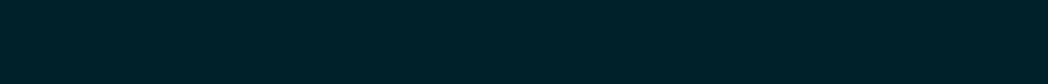- A primeira pergunta é muito simples: como é que um brasileiro chega à Volta a França?
- Nasci em Curitiba, no sul do Brasil, a 400 quilómetros de São Paulo. É uma cidade muito europeia, com muitos imigrantes espanhóis e italianos, e havia uma grande cultura de ciclismo. Comecei por acaso e, ao fim de três anos, tornei-me campeão do mundo de juniores em Florença. Isso permitiu-me assinar pelo ACBB, um clube que produziu grandes campeões como Stephen Roche, Sean Kelly, Phil Anderson e Allan Peiper. Comecei a minha carreira profissional em 1986 na RMO, onde fiquei até 1992. Depois passei para a Chazal (1993), Lotto (1994) e acabei na Specialized America durante dois anos antes de parar. Queria conhecer o mundo do ciclismo e descobrir a Europa, e pude fazer tudo em conjunto. Na altura, não me apercebi da importância de ter ganho uma etapa da Volta a França, mas, olhando para trás, percebo que é um grande feito, que marca uma carreira. Sinto-me orgulhoso por ter conseguido evoluir num desporto tão competitivo. Em Rennes, venci o Laurent Jalabert, o que foi um grande momento.
- Os anos 80 assistiram à chegada do ciclismo sul-americano aos pelotões profissionais europeus, nomeadamente com os ciclistas colombianos.
- Eu fazia parte dessa geração que chegou a França com uma mochila, numa altura em que o ciclismo se modernizava e globalizava. Na altura, havia um mexicano, os colombianos, com uma forma diferente porque já tinham a sua própria identidade. Era diferente de outros estrangeiros como Phil Anderson ou Allan Peiper que vieram da Austrália e foram pioneiros como Greg LeMond e Jonathan Boyer nos Estados Unidos. Cheguei a esta transição com o ciclismo europeu puro e a chegada de nacionalidades exóticas. Podemos ver isto como uma equação: o que o Tour nos trouxe e o que nós trouxemos para o Tour. Simbolicamente, a minha vitória foi importante porque contribuiu para esta globalização.
- Após a sua vitória de 14 de julho de 1991, houve um efeito de moda no Brasil ou não houve seguimento?
- Foi um sucesso importante, fui recebido pelo Presidente da República. Hoje, sou mais conhecido do que na altura, quando eram apenas os adeptos do ciclismo. O ciclismo evoluiu no Brasil em termos de qualidade de vida e bem-estar. Competitivamente, é mais complicado, porque há muitos problemas económicos e o ciclismo, sem ser elitista, tornou-se muito caro para ser praticado a alto nível. O ciclismo tornou-se glamoroso, é preciso mostrar as nossas conquistas e os nossos desempenhos. Depois da minha carreira, pude dar-me ao luxo de criar uma marca, com vestuário, ao ponto de nos tornarmos a referência no Brasil. Consegui fazer isso por causa da minha reputação na bicicleta. Como estou próximo desse quotidiano, mesmo na Europa, sou respeitado porque fiz coisas pelo ciclismo.
- Essa vitória foi o ponto alto da sua carreira?
- No dia anterior, todos nós tínhamos tido um grande contratempo no contrarrelógio. Na altura, eram etapas muito difíceis, com 70 quilómetros. No dia seguinte, escapei e senti-me muito, muito bem. Dois dias antes, estava na fuga que foi apanhada a 250 metros da meta e Jean-Paul Van Poppel tinha ganho. Sentia-me muito bem. Quando entrámos em Rennes, falei com Christian Rumeur, o chefe de equipa que tinha vindo ter comigo. Disse-lhe que ia atacar a 700-800 metros do fim, porque com Laurent Jalabert, Dimitri Konyshev e Guido Bontempi, teria menos hipóteses no sprint. A três quilómetros do fim, Johann Bruyneel afastou-se. A equipa Toshiba fez um grande esforço para o apanhar e ele foi novamente apanhado a 750 metros do fim. Era o momento ideal para atacar. Aos 100 metros, estava com cãibras, no fim das minhas forças. Estava a 65km/h e vi que as coisas estavam a aproximar-se. Ganhei e bati o Jalabert por 27 centímetros! Tenho o photo finish em casa.
- Ao mesmo estilo que Victor Lafay em San Sebastián...
- Tenho muita admiração pelo que ele fez, porque era o segundo dia e tinha um pelotão inteiro atrás de si.
- Depois de si, apenas Murilho Fischer teve uma carreira europeia, nomeadamente com a Française des Jeux.
- Murilho está sempre perto de França e é um embaixador da Volta a França. Aprendeu em Itália antes de vir para França. Trabalhámos juntos no ano em que ele terminou em 5.º lugar no Campeonato do Mundo de Madrid. Tivemos uma boa carreira e temos um verdadeiro laço de amizade. Ele teve uma grande carreira. É um cavalheiro.
- Há alguma esperança de que um brasileiro chegue em breve a ganhar grandes corridas, nomeadamente através de um sistema de treino?
- A distância que se sentia no meu tempo é menor hoje em dia. Quando eu ligava para casa, custava 10 dólares por minuto! Mas nem por isso é menos difícil. Hoje, com as novas tecnologias e todos os dados disponíveis, podemos ver muito cedo se um ciclista tem potencial suficiente. Além disso, no Brasil, o sistema de treinos está longe de ser uma realidade. Neste momento, Vinicius Rangel está a correr pela Movistar e está a fazer o seu caminho. Mas se eu o comparar com a escola colombiana, e mesmo sem querer criticar o trabalho da federação brasileira, estamos muito longe disso. Tendo vivido em França durante quase 15 anos, onde há um foco nos estudos desportivos, vejo que o Brasil é um país muito grande, mas cada região tem a sua maneira de fazer as coisas. Há muito a ser feito porque há muito potencial e, portanto, muitos campeões em potencial. Mas nós não temos este tipo de trabalho quotidiano.
- Passou sete épocas na RMO e conviveu com os melhores de França. Esteve próximo de Charly Mottet, em particular.
- Quando Charly chegou do Système U, já tínhamos uma grande equipa. Mottet era o nosso líder, mas havia também os irmãos Madiot, Thierry Claveyrolat e Eric Caritou, entre outros. Uma equipa e peras! No final da primeira época de Charly, éramos a segunda maior equipa do mundo e ele era o número 1. Talvez não fosse o ciclista mais falado nos meios de comunicação social, mas era muito eficaz na bicicleta. Ganhou muitas corridas e tinha uma grande força mental. Pude partilhar com ele esta forma de correr. Tínhamos um laço de amizade e partilhávamos isso na bicicleta. Quando ele ganhava os quatro dias de Dunkerque ou o Dauphiné, podia contar comigo para dar tudo por tudo. Estávamos sempre presentes para nos motivarmos mutuamente e também para partilharmos os momentos difíceis. O mesmo aconteceu com Marc Madiot. Ganhou Paris-Roubaix connosco e eu fui o último ciclista a tirar-lhe as garrafas e ele reconheceu isso. Isso forjou uma amizade. Cresci com tudo isto. Também tive boas relações com os italianos e com Miguel Indurain. Isso fez de mim um cidadão do mundo.
- Voltando a Charly Mottet, muitos seguidores pensam que ele foi demasiado honesto e que o facto de ter sido um ciclista limpo o privou de uma melhor lista de prémios.
- Tendo tido a sorte de partilhar o quotidiano com ele durante alguns anos, ele tinha essa mentalidade especial. Sentávamo-nos à mesa para conversar e ele dizia-me: "Sabes, o ciclismo é um desporto em que não precisas de falar muito, as tuas pernas falam por ti". Charly sabia como perder, conhecia os seus limites, mas tinha a sua própria identidade, a sua própria forma de correr. Quando não se sentia bem, era capaz de nos dizer para corrermos a nossa corrida, sem pensarmos em nós próprios. A sua maneira de ver as coisas era muito limpa, não se preocupava muito com o que as pessoas diziam dele. Questionava-se primeiro a si próprio antes de olhar para os outros. Foi o número um do mundo durante dois anos consecutivos e ganhou grandes corridas. Mas talvez lhe faltasse o tipo de espontaneidade que Richard Virenque tinha. Quando Richard chegou, disse que queria fazer os franceses chorar! Ele queria aparecer na televisão, era voluntário, queria ser uma estrela. Charly queria simplesmente fazer o seu trabalho de uma forma exemplar. Mas para mim, Mottet faz parte da história do ciclismo francês.
- As ligações no seio da RMO eram sólidas, como se viu em 1989 durante o Campeonato do Mundo de Chambéry. Thierry Claveyrolat estava na frente e podia ter vencido, mas Laurent Fignon queria voltar a entrar, o que enfureceu Mottet. Fignon atacou, apanhou a fuga mas colocou Greg LeMond de novo na corrida para se tornar campeão do mundo. Diz-se que Claveyrolat nunca mais foi o mesmo depois desta traição, é verdade?
- O Thierry estava a ir muito bem, foi um grande ano para ele. Charly queria que a corrida terminasse assim porque Claveyrolat era o mais forte. Quando Fignon entrou, foi um golpe para a sua moral, colocou-o em dificuldades. Se Fignon não atacar, ninguém regressa.
- Falou de Richard Virenque. Na sua primeira Volta à França, conquistou a camisola amarela após a terceira etapa e foi o início de uma grande relação de amor com o público francês que, apesar do caso Festina, nunca diminuiu. Como é que se explica esse extra que ele sempre teve?
- Quando chegou à RMO, tinha esse caráter aventureiro e agressivo. Era um jovem que queria ser bem sucedido. Fisicamente, era muito forte. Era louco, mas transmitia energia. Os mais velhos tinham de o treinar, explicar-lhe que tinha de ir passo a passo. Lembro-me que, num campo de treinos, a última subida foi feita a um ritmo muito rápido, mas ele queria ir ainda mais depressa... mas chegou três ou quatro minutos depois de nós. Nessa noite, Charly colocou um troféu no seu lugar dizendo que ele era o campeão do treino e disse a Richard que estávamos todos na mesma equipa e que estávamos juntos. Se somos os mais fortes, temos de ajudar os mais fracos da equipa e a competição é com os nossos adversários, não com os nossos colegas de equipa. Quando se é o mais forte, não há necessidade de o mostrar. Nesse dia, Richard compreendeu uma coisa.
- Até se estendeu a Nicolas Sarkozy. Quando os vimos juntos, não sabíamos quem estava mais orgulhoso: o ciclista com o Presidente da República ou o Presidente da República com o ciclista.
- Richard exala muita energia positiva. França é uma sociedade muito evoluída que se coloca muitas questões, mas ele põe isso de lado. Costumava dizer "vamos conseguir, não sei como, mas vamos conseguir". As pessoas gostavam de o ver partir para uma fuga. Hoje, é impossível fazer uma corrida dessas. E depois podia repeti-las, querendo que o dia seguinte fosse melhor do que o anterior. Não fazia perguntas a si próprio. Por vezes, nem sequer sabia o percurso! Dizia "se fizer o Paris-Roubaix, vou ganhá-lo" quando não tinha vocação para isso, mas isso é típico dele. É admirável porque, quando tudo está calculado, ele vai em frente e diz "porque não?".
- O que pensa desta nova geração, que ataca, mas que também olha muito para os sensores de potência e não se mexe sem receber instruções do chefe de equipa?
- Na minha opinião, a seguir à Fórmula 1, o ciclismo é o desporto que mais depende da evolução constante da tecnologia. Hoje, o esforço é mais regular e constante e a diferença é feita nos últimos dois quilómetros para ganhar alguns segundos. Isto deixa-me nostálgico, porque no meu tempo, era mais uma questão de sentimento, com ciclistas que podiam começar a 25 quilómetros da meta e as diferenças eram contadas em minutos. Atualmente, os ciclistas são orientados por médicos e preparadores físicos. É mais automatizado e controlado.
- A etapa de Puy-de-Dôme, com toda a mitologia que envolve esta subida, teria merecido um duelo pela vitória da etapa entre Pogacar e Vingegaard. Esperávamos demasiado?
- O Puy-de-Dôme é mítico, mas é uma competição com muita estratégia, e a forma como o Tour foi concebido fez com que já houvesse ciclistas a 45 minutos na geral. Se o Tour tivesse terminado no dia seguinte, a etapa não teria sido a mesma. Apesar de tudo, Pogacar ganhou alguns segundos preciosos. Com Vingegaard, estão a fazer a sua própria corrida, estão numa classe à parte.
- Correu a Paris-Roubaix sete vezes e terminou cinco vezes. Alguma vez se perguntou como é que chegou de Curitiba ao Inferno do Norte?
- Bernard Thévenet, que era diretor desportivo da RMO, disse uma vez que eu era o mais francês dos brasileiros! A Paris-Roubaix é sempre mais simples na televisão. Na corrida, o perigo está em todo o lado, mas eu tinha jeito para as clássicas. Também fiz a Milano-San Remo nove vezes, por exemplo. Gostei muito do ambiente.
- Não acha que os atuais líderes David Gaudu e Thibaut Pinot não têm a agressividade e um certo tipo de caráter que o Bernard Hinault tinha?
- Hinault impunha a sua personalidade. Havia corridas em que ele dizia que um dos seus companheiros de equipa ia ganhar hoje e, se ele não seguisse as ordens, dizia que se fosse assim, ele ganhava... e ganhava! Comparativamente a hoje, Vingegaard e Pogacar têm uma atitude bem-disposta. São respeitosos, extremamente disciplinados, mas já não há malícia. Quando cheguei ao pelotão, havia uma cultura do big boss com Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Isso continuou com Armstrong. Hoje, quando se trata de dificuldades, há uma forma de respeito, sem esquecer que é preciso estar atento a tudo. Por exemplo, quando Wout van Aert deitou fora a sua garrafa depois da etapa de San Sebastian, isso correu o mundo, foi um grande escândalo. Esta geração quer brilhar, ser profissional, sem se tornar agressiva, o que está de acordo com todas as questões financeiras que a rodeiam. Também precisam de ter esta atitude para com os jovens que os admiram. O comportamento do passado também se deve ao facto de as diferenças serem muito maiores, enquanto agora é uma questão de segundos.
- Por fim, Vingegaard ou Pogacar de amarelo em Paris?
- As coisas tornar-se-ão mais claras após o Grand Colombier (etapa desta sexta-feira, ndr). Pogacar isola-se mais rapidamente e a partir do momento em que se torna um mano a mano, penso que ele é um pouco melhor do que Vingegaard... mas posso estar enganado (risos).